Os economistas emburreceram?
Por que tantos economistas defendem sistemas que destroem os próprios fundamentos do livre mercado? Este artigo confronta o silêncio — e a rendição — do pensamento econômico diante do avanço do globalismo e do totalitarismo.
PHD Bertoncello
4/4/20257 min ler
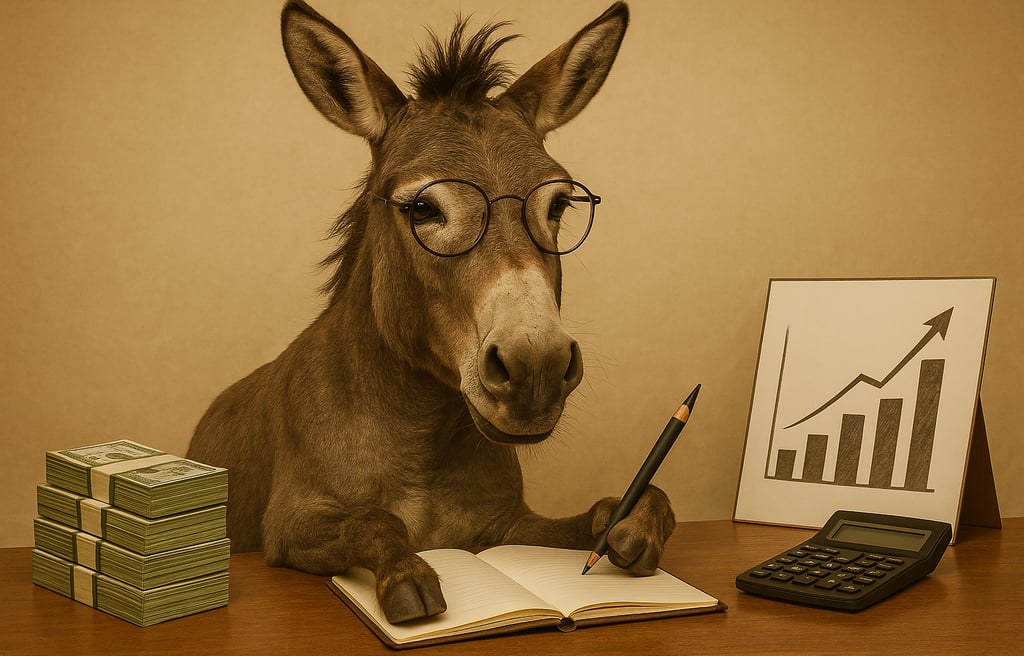
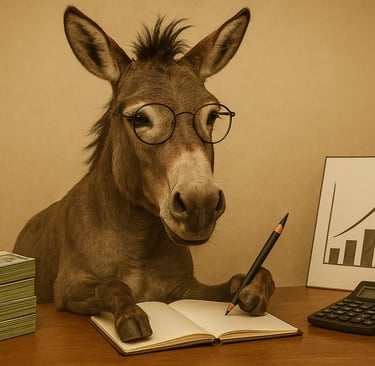
Introdução
Desde que Donald Trump anunciou uma nova rodada de aumentos tarifários contra países como China, México, Canadá e União Europeia, diversos economistas reagiram com severas críticas. Para muitos, trata-se de um retorno ao protecionismo, um erro estratégico que contradiz os fundamentos do livre-comércio, especialmente aqueles delineados por David Ricardo no século XIX, segundo os quais as nações se beneficiam ao se especializarem com base em suas vantagens comparativas (RICARDO, 1817). Contudo, essas críticas partem do pressuposto de que as condições do comércio internacional permanecem simétricas, transparentes e livres de intervenções — o que, na realidade contemporânea, está longe de ser verdade.
A defesa incondicional das trocas voluntárias ignora que, há muito tempo, os mercados deixaram de ser arenas puramente espontâneas e livres de interferências estatais. Mesmo autores clássicos como Adam Smith e Ludwig von Mises já destacavam que a liberdade de mercado depende da existência de normas estáveis, respeito à propriedade e ausência de coerção (SMITH, 1776; MISES, 1949). No cenário atual, entretanto, práticas como dumping, manipulação cambial, espionagem industrial e subsídios ocultos distorcem continuamente os incentivos. Como já advertia Friedrich Hayek, a ordem espontânea do mercado exige um ambiente institucional que garanta a concorrência leal e a descentralização de informações (HAYEK, 1944). Sem isso, a “mão invisível” é substituída por articulações políticas que beneficiam interesses concentrados, muitas vezes sob aparência de neutralidade econômica.
Aceitar esse estado de coisas sem reação seria, no caso dos Estados Unidos, comprometer irreversivelmente sua autonomia produtiva e sua capacidade de competir em setores estratégicos. A continuidade de um modelo baseado apenas na liberalização irrestrita, sem considerar o realismo geoeconômico, levaria o país a uma posição de dependência crítica frente a potências rivais. Michael Porter argumenta que a competitividade de uma nação não é apenas resultado de fatores naturais, mas da capacidade de estruturar políticas que sustentem sua inovação, produtividade e adaptação tecnológica (PORTER, 1990). Nesse sentido, as tarifas e medidas corretivas propostas por Trump não devem ser vistas como ataques irracionais à teoria econômica, mas como tentativas de reconstruir uma base produtiva nacional diante de uma ordem internacional profundamente assimétrica.
Totalitarismo, globalismo e as cadeias globais
A maioria dos Estados totalitários tem como objetivo consolidar o poder interno e expandir sua influência externa, uma dinâmica que Arendt (1951) descreveu como intrínseca ao totalitarismo. Tomemos a China contemporânea como exemplo: sob o Partido Comunista, o país combina controle rígido sobre cidadãos e empresas — por meio de vigilância em massa e regulações como o Sistema de Crédito Social — com uma busca agressiva por influência internacional, visível em iniciativas como a Nova Rota da Seda. Para Arendt, esse modelo reflete a essência do totalitarismo: a subordinação da liberdade individual a uma ideologia central que justifica tanto a repressão doméstica quanto a projeção de poder global. Para você que não domina a economia, compreender essa dualidade é essencial para avaliar como regimes totalitários distorcem as trocas voluntárias defendidas por Mises (1949), substituindo-as por coerção estatal que beneficia elites políticas em detrimento da sociedade.
A visão globalista, por outro lado, frequentemente adota um coletivismo que erode a individualidade de cidadãos e empresas, um ponto criticado por Hayek (1944) em sua análise sobre a perda de liberdade sob sistemas centralizados. Inspirados por ideias de Kant (1795) e Held (1995), os globalistas propõem uma governança supranacional que, em nome do bem-estar social, aumenta impostos e regulações para financiar políticas universais, como as defendidas por Keynes (1944) no sistema de Bretton Woods. Esse processo, porém, reduz a autonomia econômica, transferindo decisões das mãos de indivíduos e firmas — que Smith (1776) via como motores da prosperidade — para burocracias distantes. O cidadão deve notar que, embora o objetivo seja a equidade, o resultado prático é uma homogeneização que sufoca as vantagens competitivas descritas por Porter (1985), comprometendo a inovação e a eficiência.
Curiosamente, as cadeias globais de produção adaptaram-se bem tanto a governos totalitários quanto a estruturas globalistas, reduzindo custos e maximizando lucros no comércio internacional. Ricardo (1817) já apontava que a especialização baseada em vantagens comparativas impulsiona a eficiência global, mas hoje vemos empresas explorando mão de obra barata em regimes como o da China, onde o controle estatal garante estabilidade e baixos salários. Friedman (1980), em O Mundo é Plano, destaca como a tecnologia e a integração global facilitam essa adaptação, permitindo que corporações contornem barreiras locais e otimizem cadeias de suprimento. Para você, é crucial entender que essa simbiose entre totalitarismo e globalismo contradiz a visão de trocas voluntárias puras, revelando um mercado moldado por forças políticas e econômicas interdependentes.
Se os Estados Unidos não se opuserem a esse cenário de avanço do globalismo e dos totalitarismos, sua economia corre o risco de sucumbir, com o dólar perdendo valor como moeda de reserva global. Hayek (1944) alertava que a centralização excessiva — seja nacional ou supranacional — mina a liberdade econômica, enquanto Schumpeter (1942) enfatizava a inovação como chave para a sobrevivência em um mundo competitivo. A incapacidade de resistir às pressões de um sistema globalista, como descrito por Stiglitz (2002), ou ao domínio econômico de potências totalitárias como a China, poderia deslocar os EUA de sua posição dominante, enfraquecendo as vantagens competitivas que Porter (1985) considera essenciais. Para o aprendiz, esse risco ilustra como a negligência às lições históricas pode precipitar o declínio de uma potência.
Por fim, é necessário compreender a fragilidade crescente do sistema monetário internacional centrado no dólar. Embora os Estados Unidos se beneficiem da emissão de sua moeda como padrão global, isso vem ao custo de um endividamento público explosivo, atualmente superior a 33 trilhões de dólares. Esse privilégio — conhecido como "exorbitant privilege", como definiu Valéry Giscard d’Estaing — permite aos EUA financiar déficits permanentes, mas também cria uma pressão inflacionária interna e incentiva políticas monetárias irresponsáveis. A longo prazo, como alertam economistas como Nouriel Roubini e Kenneth Rogoff, a confiança internacional no dólar pode se enfraquecer, sobretudo se surgir uma alternativa digital ou sino-centralizada, ameaçando a estabilidade do próprio sistema financeiro global (ROUBINI, 2022; ROGOFF, 2016).
Resumindo
É intelectualmente insustentável que economistas com formação teórica sólida e integridade analítica aceitem passivamente que as cadeias globais de fornecimento tenham como base países totalitários e regimes globalistas cujo objetivo declarado ou implícito é restringir liberdades individuais e impor formas centralizadas de controle. Como se pode conceber que os fundamentos do comércio internacional — que deveriam ser ancorados em eficiência, liberdade e competição justa — sejam sustentados por nações que negam a propriedade privada, manipulam mercados e suprimem qualquer forma de dissidência? A defesa desse modelo exige uma suspensão total do juízo moral e uma traição aos princípios elementares da economia de mercado, como alertaram Hayek (1944) e Arendt (1951). Ignorar esse paradoxo não é um erro técnico, mas uma rendição ideológica.
Além disso, as vantagens comparativas e competitivas — pilares do comércio racional descritos por Ricardo (1817) e Porter (1990) — somente se realizam plenamente em contextos de concorrência simétrica, o que pressupõe igualdade tributária, ausência de distorções artificiais e equilíbrio nas obrigações comerciais. Não é plausível exigir dos Estados Unidos que sustentem tarifas mais elevadas, tributos corporativos mais pesados e obrigações ambientais mais rígidas, enquanto seus parceiros comerciais usufruem de regimes permissivos, subsídios estatais e autoritarismo estrutural. Sob tais condições, os EUA estariam sistematicamente em desvantagem, não por falhas de mercado, mas por um projeto político-econômico internacional que compromete sua capacidade de competir.
Por essa razão, o uso da força econômica e regulatória dos Estados Unidos para reorganizar as relações comerciais globais — ainda que por meio de tarifas seletivas ou medidas de incentivo industrial — não deve ser visto como protecionismo irracional, mas como uma ação corretiva necessária. Um comércio mais justo pode, sim, ser livre — ou tarifado — desde que respeite o princípio da reciprocidade. O risco maior seria a inércia: se os Estados Unidos não fizerem agora os ajustes de rota, poderão perder a capacidade de fazê-los no futuro. E, nesse cenário, não apenas sua economia estaria em risco, mas o próprio equilíbrio geopolítico global. Alguns economistas compreendem perfeitamente isso, mas optam pela má-fé ou pelo silêncio conveniente. Outros, lamentavelmente, embruteceram, vítimas de uma doutrinação sutil que já os integrou, consciente ou inconscientemente, a uma ordem globalista ou totalitária.
Referências
ARENDT, Hannah. The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, Brace & Company, 1951.
FRIEDMAN, Milton; FRIEDMAN, Rose. Free to Choose: A Personal Statement. New York: Harcourt, 1980.
HAYEK, Friedrich A. The Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press, 1944.
HELD, David. Democracy and the global order: from the modern state to cosmopolitan governance. Cambridge: Polity Press, 1995.
KANT, Immanuel. Perpetual peace: a philosophical essay. London: Swan Sonnenschein, 1795.
KEYNES, John Maynard. The general theory of employment, interest and money. London: Macmillan, 1936. (Nota: referência ao Bretton Woods de 1944).
MISES, Ludwig von. Human Action: A Treatise on Economics. New Haven: Yale University Press, 1949.
PORTER, Michael E. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990.
PORTER, Michael E. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. New York: Free Press, 1985.
RICARDO, David. On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray, 1817.
ROGOFF, Kenneth S. The Curse of Cash. Princeton: Princeton University Press, 2016.
ROUBINI, Nouriel. Megathreats: The Ten Trends That Imperil Our Future – and How to Survive Them. New York: Little, Brown and Company, 2022.
SCHUMPETER, Joseph A. Capitalism, socialism and democracy. New York: Harper & Brothers, 1942.
SMITH, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.
STIGLITZ, Joseph E. Globalization and Its Discontents. New York: W. W. Norton & Company, 2002.
Bella Investimentos
Consultoria financeira para proteção patrimonial nos EUA.
Contato
E-books
contato@phdbertoncello.com
+55 18 99710-4753
© 2025. All rights reserved.